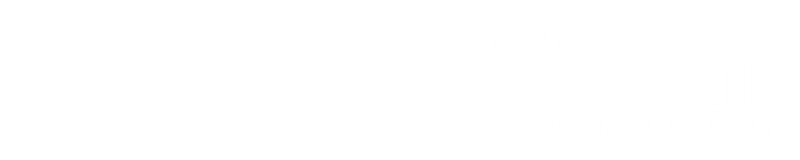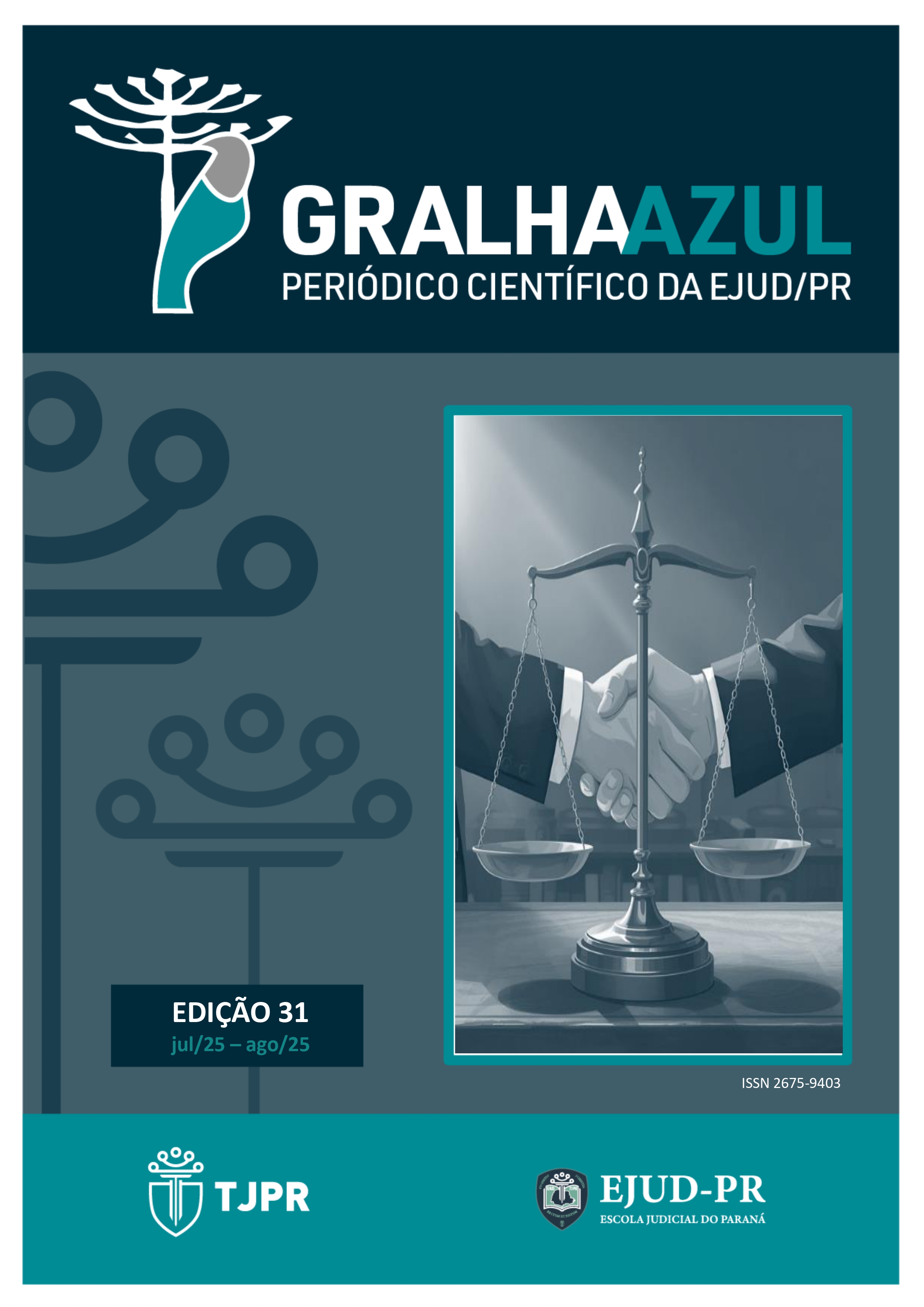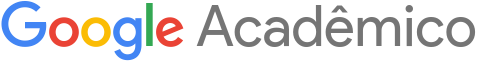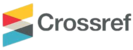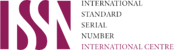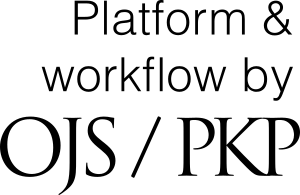Editorial
DOI:
https://doi.org/10.62248/chvggj50Resumo
Com muita alegria, tenho a honra de apresentar a 31ª edição da Revista Gralha Azul, continuidade de uma trajetória dedicada à produção de conhecimento e ao debate jurídico qualificado desde 2021.
Esta edição reúne um mosaico de experiências e fundamentos que, vistos em conjunto, apontam para uma mesma virada: a passagem do Judiciário centrado na sentença para uma justiça de diálogo, corresponsabilidade e resultados socialmente verificáveis. Do desenho institucional capilarizado do TJPR à lente habermasiana da legitimidade dos acordos; da mediação ambiental voltada a populações vulnerabilizadas à fraternidade como vetor hermenêutico; da cultura de paz nas escolas e nas eleições ao uso responsável de tecnologias digitais em ODR e IA; dos litígios estruturais fundiários aos conflitos sofisticados do agronegócio — os artigos aqui publicados convergem em um princípio simples e exigente: pacificar é transformar.
No artigo “Cultura de pacificação no Judiciário brasileiro: a transformação dos conflitos a partir da atuação da 2.ª Vice-Presidência do TJPR”, Fábio Haick Dalla Vecchia defende que a transição do paradigma adversarial para um paradigma dialógico — centrado em mediação, conciliação e justiça restaurativa — não é um adereço procedimental, mas política pública constitucional.
Em “A autocomposição e o interesse público no direito brasileiro: perspectivas, desafios e a tutela da vulnerabilidade em face dos direitos fundamentais”, Jorge Campanharo reflete sobre a compatibilidade entre autocomposição e interesse público no direito brasileiro. O texto sustenta que conciliação e mediação não são apenas mecanismos privados de resolução de litígios, mas instrumentos que atendem também à coletividade, sobretudo quando envolvem direitos fundamentais de grupos vulneráveis. O desafio, segundo o autor, está em equilibrar a autonomia das partes com a preservação do interesse público, assegurando soluções dialogadas que respeitem a Constituição e reforcem a legitimidade democrática do sistema jurídico.
No ensaio “A conciliação à luz da ética discursiva: brevíssimas anotações sobre Habermas e a legitimidade dos acordos consensuais”, Jéssica Menzyski Markus reposiciona a conciliação judicial como espaço normativo de reconhecimento e reconstrução moral, e não mero instrumento de gestão de demandas.
Luiz Henrique Sormani Barbugiani examina a “Comunicação Não Violenta não apenas como técnica de gestão de conflitos”, mas como prática espiritualizada de convivência, que valoriza empatia, reconhecimento e diálogo. O autor traz grandes inspirações como eferência ao pacifista Mahatma Gandhi, e noções gerais sobre espiritualidade.
Em “Mediação em matéria ambiental como uma forma de efetividade de justiça para minorias étnico-raciais: a experiência do NUCAM/MG”, Luiz Henrique Santos da Cruz e Manoela Mel Oliveira Koga defendem que a mediação ambiental é via concreta de acesso à justiça para populações vulneráveis — especialmente grupos étnico-raciais afetados por racismo ambiental — ao contornar barreiras estruturais do contencioso (custos, morosidade, assimetria informacional) e ancorar-se em marcos normativos nacionais e internacionais (CRFB/1988; Lei 13.140/2015; diretrizes da UE; Carta da ONU), com foco na participação, simetria e soluções consensuais tecnicamente justificadas; o estudo de caso do NUCAM/MG mostra um desenho institucional extrajudicial (TACs, recomendações, análise técnica de licenças) capaz de articular múltiplos atores e acelerar reparações, com resultados reportados como expressivos (86,3% de êxito em casos acompanhados) e percepção ministerial crítica à capacidade do Judiciário de dar resposta tempestiva a litígios ambientais, sugerindo um modelo replicável para democratizar a tutela ambiental e recentrar a política pública na proteção efetiva de comunidades historicamente discriminadas.
Barbara Lucia Tiradentes de Souza e Elisangela Veiga Pontes, em “Roupa suja se lava em casa: a mediação como caminho de pacificação para o amor que acabou”, defendem que a judicialização dos conflitos familiares — movida pelo modelo adversarial — tende a amplificar danos emocionais, cristalizar ressentimentos e atingir de modo particular as crianças, ao passo que a mediação oferece um caminho mais ético, humanizado e eficaz de desjudicialização: um espaço de escuta ativa, corresponsabilidade e reconstrução relacional, alinhado à Política Judiciária de autocomposição (Res. CNJ 125/2010) e ao ambiente institucional de práticas restaurativas (Res. CNJ 225/2016).
Anderson Ricardo Fogaça situa o processo eleitoral como campo fértil tanto para a violência simbólica quanto para a semeadura da paz, no artigo “A Campanha Da Paz Como Instrumento De Pacificação Nas Eleições, Sob Uma Ótica Da Cultura Da Paz E De Leonardo Boff” Inspirado na teologia libertadora de Leonardo Boff e nos princípios da cultura da paz da UNESCO, o artigo sustenta que campanhas pacifistas em períodos eleitorais podem ser mecanismos eficazes de despolarização, de educação cívica e de reconstrução da confiança social, transformando a arena política em espaço de cidadania e não de hostilidade.
Em “Mediação, conciliação e autocomposição nos Juizados Especiais: perspectivas para a efetividade do acesso à justiça”, Fabiano Machado da Silva e Alexandre Almeida Rocha situam a autocomposição como eixo de reforma prática do sistema de Juizados (Lei 9.099/1995), articulando o marco normativo — CF/1988, Resolução CNJ 125/2010, Lei 13.140/2015 e CPC/2015 (distinção entre mediação e conciliação) — à crise de efetividade do Judiciário (litigiosidade massiva) para sustentar que negociar com método, qualidade e garantias produz respostas mais adequadas, reduz sobrecarga e pacifica com celeridade e baixo custo.
Em “A fraternidade como princípio jurídico e fundamento da pacificação social”, José Laurindo de Souza Netto resgata a fraternidade do plano moral e a eleva a princípio jurídico com eficácia normativa no constitucionalismo de 1988.
No artigo “Cultura de Paz e Justiça Restaurativa como estratégias de enfrentamento da violência escolar em Pato Branco/PR”, Chaiane Ferreira de Souza, Fernanda Carolina Oliveira Mello Polsin e Letícia Silvestre Bettiollo articulam diagnóstico empírico e proposta pedagógico-institucional.
Em “Mediação Online e Inteligência Artificial no TJPR: riscos éticos e fundamentos filosóficos da pacificação digital”, João Paulo Ishisato, Luiz Antonio Ferreira e Lara Helena Zambão examinam a incorporação de ODR e IA no TJPR — impulsionada pela Res. CNJ 125/2010 e pelo ecossistema Justiça 4.0/PDPJ-Br — destacando o crescimento expressivo das audiências virtuais e, ao mesmo tempo, os dilemas que a eficiência pode ocultar: vieses algorítmicos, exclusão digital, opacidade e desumanização do contato entre partes.
Fabrício Barbosa Barroso propõe um Judiciário que deixa de ser mero guardião abstrato da legalidade para assumir papel operativo na governança ambiental em “Desafiar o Antropoceno: a consolidação do Estado de direito socioambiental para a abertura à participação social nos litígios ambientais perante o Poder Judiciário”.
No artigo “Métodos consensuais para resolução de conflitos no setor do agronegócio”, Edna de Cássia Santos e Flávia Jeanne Ferrari argumentam que a sofisticação das cadeias do agro exige respostas céleres, técnicas e discretas — terreno no qual mediação e arbitragem desobstruem a justiça e restituem protagonismo às partes por meio do diálogo assistido ou da decisão por especialista independente.
Fábio S. Santos e Daniel Araújo Maia defendem em “A pacificação social por meio da perícia judicial no processo do trabalho” como instrumento eficaz do acesso à justiça, que a perícia judicial, especialmente no processo do trabalho, é elemento central para garantir a efetividade do acesso à justiça. Ao fornecer conhecimento técnico-científico indispensável à decisão, a perícia não apenas subsidia julgamentos mais justos, mas também reduz a litigiosidade, assegura direitos fundamentais e promove pacificação social ao conferir legitimidade e confiança às decisões judiciais.
No artigo “O processo estrutural em litígios fundiários coletivos: o caso do Jardim Cambeville/PR”, Luciene Zanetti e Patrícia Funabashi Jorge transformam uma antiga reintegração de posse em estudo-modelo de processo estrutural.
“Reintegração do apenado através da educação, direito assegurado para todos: um dever do Estado e da família que será promovida e incentivada pela sociedade” é analisado por Flávia Jeane Ferrari, Luciane Mariano Freitas e Douglas Angelo Ferrari, que trazem a educação como eixo estruturante da reintegração social da população carcerária. O artigo sustenta que, mais que política pública, o acesso à educação é dever do Estado, responsabilidade da família e compromisso da sociedade. A alfabetização, a formação técnica e o ensino superior em unidades prisionais são apresentados como instrumentos de pacificação social, na medida em que reduzem reincidência, ampliam perspectivas e reconstroem vínculos de cidadania.
Tais Martins, em “Obesidade e discriminação – entre a indolência legislativa e a pacificação social”, denuncia a omissão legislativa na proteção contra a discriminação de pessoas obesas, ressaltando como estigmas e preconceitos perpetuam exclusões em ambientes de trabalho, escolas e serviços de saúde. A autora argumenta que a ausência de marcos normativos específicos agrava a vulnerabilidade dessa população, sugerindo que a pacificação social exige políticas afirmativas e legislação protetiva que tratem a obesidade como questão de saúde pública e de direitos fundamentais.
Aprendemos com os textos a relevância do investimento em (1) formação supervisionada e permanente de mediadores, conciliadores e facilitadores, com ênfase em vulnerabilidades e vieses; (2) indicadores qualitativos (cumprimento espontâneo, satisfação informada, reparação de danos, redução de reincidência) ao lado dos volumétricos; (3) redes interinstitucionais estáveis que integrem justiça, escolas, universidades, terceiro setor e setor produtivo; (4) marcos de governança tecnológica que protejam direitos e ampliem participação; (5) expansão de práticas dialógicas em litígios estruturais e socioambientais, com participação social vinculante.
A Gralha Azul segue comprometida em publicar evidências, fundamentos e rotas replicáveis para que a cultura de pacificação deixe de ser promessa e se torne infraestrutura pública. Se há um fio a costurar estas páginas, é este: a justiça que escuta mais decide melhor — e decide melhor porque integra a transformação social no sentido da justiça.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha (Autor)

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.